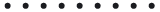Com a FIFA futebol é distopia

Pela primeira vez na história um mega-evento desportivo enfrenta uma rara onda generalizada de contestação nas ruas. Que esse desporto seja o futebol e que os protestos sucedam no Brasil, país por excelência do futebol, são circunstâncias que confirmam que as mobilizações populares contra a Copa do Mundo 2014 são um marco significativo de contestação à dominação das elites, esse jogo sem fairplay levado a cabo desta vez através da ideologia do desporto.
Desde o seu surgimento e até há algumas décadas atrás, o futebol mantinha a sua narrativa própria: popular, operário, pobre e de acesso geral, democrático (com exemplos sui generis como na surpreendente Democracia Corinthiana, movimento pro-autogestionário da célebre equipa brasileira do Corinthians, em plena ditadura militar, e em que jogadores, treinador e funcionários tinham voto igualitário nas decisões).
Em “O Viajante”, o realizador Abbas Kiarostami filmou o garoto de uma aldeia nos cus de judas que fez trinta por uma linha para arranjar dinheiro para ir a Teerão ver uma partida de futebol. Uma aventura de malandragem e sobrevivência de um miúdo de doze anos para conseguir chegar à capital e comprar um bilhete para a geral. Com o bilhete na mão e os olhos a sorrir de felicidade, o moleque viu que ainda tinha tempo de sobra para entrar no estádio e merecia dormir uma sesta depois de 500km de estrada. Quando acordou, a sua utopia já tinha terminado e o estádio vazio.
No anonimato dos seus fãs, o futebol continua a ser o menos perigoso dos fanatismos (longe das consequências perversas das ideologias das massas como a religião, o nacionalismo, a política). Como no conto “O Torcedor”, do escritor brasileiro João Antônio, a violência de uma partida pode acabar com os rivais enfiados na mesma carrinha da polícia, descansando lado a lado no ombro do inimigo. Só um punhado de homens poderosos e fanáticos, munidos das astúcias da hiper-exploração, poderia revestir o futebol do espírito do tempo (o multi-lucro) e convertê-lo num espectáculo destrutivo.
FIFA: Walt Disney para adultos
No Brasil, desde o início da megaprodução da Copa até às Olimpíadas de 2016, estima-se que pelo menos 170 mil pessoas passarão pelo despejo. (O que na Alemanha representaria, proporcionalmente, 70 mil desalojados). Só no Rio de Janeiro, prevê-se o desmantelamento de 130 favelas. Aldeia Maracanã, Vila Autódromo, o Horto, Vila das Torres, Ocupação Flor do Asfalto, a Restinga no Recreio, Metro Mangueira, além das comunidades afectadas pelo projecto Porto Maravilha, a revitalização da zona portuária, a maior iniciativa público-privada do Brasil, são apenas algumas das comunidades que já enfrentaram a arbitrariedade da lei-FIFA. É apenas na TV que a multinacional de entretenimento FIFA cumpre a sua função de Walt Disney para adultos...
O Mundial de Futebol foi sempre uma cartada de legitimação política do poder, um eficaz instrumento da ideologia do consenso nacional, uma autorização ao desvio dos recursos públicos para as mãos de magnatas, uma concessão a empresas privadas para fazerem lucros excepcionais, um espectáculo material e simbólico para a coesão das elites e sua recondução no poder.
Mas, nos dias de hoje, o lucro e a exclusão económica não bastam para normalizar o avanço do capitalismo. A criminalização dos pobres, negros e favelados, é essencial à política segregacionista, para desse modo demarcar as fronteiras entre os campos de reclusão e os campos de integração na sociedade, entre as zonas de controlo e as de libertanismo condicionado.
Com efeito, no Rio de Janeiro, as comunidades economicamente excluídas são as que mais integradas estão na lógica securitária imposta pelo Estado, sob vigilância e tutela policial permanentes (as famosas UPP’s, Unidades de Polícia Pacificadoras). O modelo das UPP’s no Brasil são um paradigma securitário a exportar para as zonas onde o poder político e económico impõe processos de controlo e de gentrificação, e arquitecta o segregacionismo de classe. O panopticon sai assim da esfera da empresa ou da videovigilância nos centros nobres das cidades, para invadir de robocops o mundo habitacional, o lazer e a convivência, e a vida privada de milhares de pessoas.
A polícia pacificadora é um elemento crucial na mais recente estratégia da gestão estatal e classista no Rio de Janeiro. Convém lembrar que antes dos mega-eventos (que começaram com os Jogos Pan-Americanos de 2007 e os Jogos Mundiais Militares de 2011, ambos na cidade carioca), que agudizaram a escala e profundidade desta estratégia de controlo, foram as novas gestões do governo estadual (liderado por Sérgio Cabral Filho desde 2006) e da prefeitura da cidade (nas mãos de Eduardo Paes desde 2009) que desenharam as tácticas mais substantivas de controlo e submissão das populações:
O combate ao trabalho de rua informal, actividade crucial à subsistência dos favelados e do hiper-precariado;
A recuperação do controlo policial de zonas antes controladas pelos narcotraficantes;
Os projectos de revitalização urbana, como o da zona portuária do Rio de Janeiro, justificando os despejos e a re-segregação do direito ao espaço urbano;
A permissividade da presença maciça de drogas como o crack e, mais recentemente, do OXI, que servem de legitimação ao controlo securitário;
A proibição dos ajuntamentos populares como os bailes funk.
(O paralelo desta estratégia com as práticas de actuação da FIFA no Mundial de 2010 na África do Sul ou do COI nas Olimpíadas de Londres não pode passar despercebida, ver artigo de Federico Corriente...)
Não é também coincidência que as favelas alvo de pacificação (a pós-modernidade chegou em força aos ministérios da Polícia…) são zonas de elevado interesse económico e turístico. A estratégia do poder estadual e municipal e a táctica das UPP’s não são mais do que um novo processo de higienização sócio-económica, gentrificação que foi acelerada e ganhou uma dimensão avassaladora com os mega-eventos da Copa e das Olimpíadas.
A polícia age sob uma espécie de estado de excepção não declarado: invade domicílios, desmantela as instalações clandestinas de luz e água, o que conduz a um aumento drástico do custo de vida, forçando à evasão da população pobre que habitava a área. No sul do Rio de Janeiro, barracos são actualmente vendidos ou alugados a preços elevados, ao mesmo tempo que a rede de saneamento até aí inexistente é instalada pelo município. Soma-se a arbitrariedade policial, o racismo, a tortura a detidos e a violência praticadas em nome desta pacificação implementada pelo poder público, com o aval das instituições legislativas e judiciárias. Embora a repressão institucional se reproduza um pouco por todo o Brasil, é sobretudo nas mega-cidades que o poder tem a necessidade de impor o separatismo social e cultural. Além do Rio de Janeiro, o aparelho repressor tem imposto a sua lei arbitrária em São Paulo, por exemplo em Cracolândia (local central alvo da cobiça dos interesses imobiliários e que levou à limpeza dos toxicodependentes, dos sem tecto, das crianças de rua, dos catadores de lixo), sobre os manifestantes do “Não Vai Ter Copa” ou reprimindo os jovens da periferia que ocupam os shoppings do centro da cidade no famoso “rolezinho”.
A violência dos favelad@s é existir
A narrativa ficcional e técnica sobre a esperança e o futuro humano afirma que ser contra a Copa é ser contra o desenvolvimento do Brasil. É a mesma pirueta usada pelo discurso do poder para justificar a barragem de Belo Monte, em Altamira, no Xingu.
O trágico é perceber que as forças dominadoras dispõem do sofrimento das populações como um mecanismo de perpetuação da miséria e vendem-lhes a felicidade programada como uma droga de dependência eterna.
Os favelados (e em certa medida os povos indígenas e as populações caboclas) estão obrigados a viver num abrigo de guerra, sempre sujeitos a terem de transformar esse espaço de controlo social numa lição de vida e humanidade conquistada a ferros. Vivem em tempo real a condição do refugiado sem lugar na história oficial.
Constatação que demonstra a radicalização das forças capitalistas. Onde em algumas sociedades até há pouco mais de um século, o patrão providenciava habitação aos explorados, verifica-se que hoje a área da habitação – uma necessidade humana primária – caminhou para o extremismo de os donos do capital não só não garantirem um tecto através do pagamento de um salário que não garante a “compra” de necessidades básicas mas, em nome da expansão do seu negócio, estarem prontos a pôr em prática uma política que pressupõe a expulsão e exclusão do direito ao espaço urbano, e mesmo a eliminação física.
A liberdade de um favelado, de um negro, de um pobre, não é um mito porque eles e elas não têm tempo para serem alimentados pela imaginação (da ideologia alheia) – ali, a liberdade é sempre a violência de existir.
Nós, “brancos” e de classe média, resignados e inertes, ainda não pensámos na hipótese de que se continuarmos no sono que nos envolve teremos de aprender à pressa e com urgência essas formas de sobrevivência de que julgamos estar a salvo. E o que sucede recentemente nos países do Sul da Europa é mais do que um alerta…
Além da exploração e da exclusão económicas, da hiper-vigilância e dos despejos, é sobre os próprios favelados que recai a maldição do espírito do tempo. Enquanto se perde, por um lado, o nexo entre os responsáveis da opressão e as consequências dos seus actos, por outro, a condição de pobre e favelado legitima ela própria o castigo divino da sociedade mediática: o insucesso e a incapacidade de grandes camadas da população para a integração no mundo normalizado do trabalho-consumo explicam que só sobre elas faça sentido descarregar na forma de violência e punição todas as frustrações do beco sem saída do sistema actual. Este estigma é necessário à dialéctica do crime e castigo, quer para absolver a casta política e empresarial, quer para reconfortar as classes integradas e acomodadas, que presumem que já atingiram o mérito de pertencer a uma classe livre do arbítrio policial e governativo, como quem abre garrafas de champagne do Lidl para festejar e esquecer a sua própria miséria de work-consumer-aholic com a desgraça dos deserdados. Pobres e sem eira-nem-beira que explicam que desde o dia 20 de Maio, 40 pontos da cidade de São Paulo sejam vigiados 24 horas por dia por 4.265 polícias militares do Comando de Policiamento da Copa e que justificam os 12 rôbos anti-terrorismo, usados pelo exército norte-americano no Afeganistão, a postos contra eventuais ataques na Arena Corinthians ou na cidade paulistana...
Neste cenário, e por tudo isto, a rebeldia de milhares de brasileiro@s é uma expressão notável de resistência e do desejo de transformação.
Passará Blatter de bestial a besta?
Os protestos, as barricadas e os “vândalos” de que a TV precisa têm invadido as ruas... Os Comités Populares da Copa existem desde 2009, o que nos dá uma ideia da consciência de longo horizonte da população, e fazem-se ouvir com o slogan “Não Vai Ter Copa”, nas doze cidades-sede do Mundial. Mais recentemente, o movimento, prevendo a recuperação do slogan pela direita, alterou e politizou as palavras de ordem para “Se Não Tiver Direitos, Não Vai Ter Copa”.
A ANCOP (Articulação Nacional dos Comités Populares da Copa) reúne movimentos sociais de base, membros de comunidades afectadas pelas remoções, activistas e pessoas que criticam a forma como os processos de remodelação urbana têm vindo a ser implementados pelas autoridades no quadro da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016. O site (em PT) pode ser acedido aqui, destacando-se o dossier Megaeventos e Violações de Direitos Humanos no Brasil, que o movimento lançou em final de 2011 e que tem agora uma versão actualizada publicada há três semanas (em PT e EN), com dados e informações sobre os impactos sociais, urbanísticos e humanos causados pela hipergentrificação.
Dizia um treinador de futebol, num raro momento de lucidez discursiva, que num par de horas um treinador passa de bestial a besta. Embora caricato, traduz o lado humano da patologia futebol.
Mais complexa é a patologia dos Media e a patafísica que fabricam para renovarem a ficção do controlo social. No manto de imagens canibais, que durante um mês vão colonizar o instante do nosso olhar, como poderia ser que um dos responsáveis desta imensa patifaria colectiva, organizada pela febre da acumulação e para aniquilar a dignidade de tantos indivíduos ou mesmo a vida de inocentes, pudesse ser aquele homem que daqui a um mês sorrirá para milhões de telespectadores, no momento em que entregará a taça aos menos perigosos dos vencedores desta história?
Que no Brasil, um ano depois do libertário levantamento popular de Junho de 2013, alguns milhares de anónim@s e hiperprecári@s voltem às ruas para contestar a miséria imposta pela classe reinante e rechacem o ideal de felicidade fabricado para as massas é um sinal de extraordinário sentido crítico.
A angústia do espectador antes do penálti
Na história do miúdo Iraniano, a utopia do futebol e a interrupção desse sonho são de uma inocência que em nada se pode comparar com o que acontece na realidade do mundo do desporto de alta competição e, em particular, com a realização dos mega-eventos desportivos no mundo de hoje.
E muito menos se pode comparar com a realidade social no Brasil, onde um qualquer miúdo que habite na periferia de São Paulo ou numa favela do Rio sabe que a (im)possibilidade de ir ao estádio ou a um qualquer centro de atracção espectacular não é um luxo individual mas um pesadelo colectivo. Aprenderam que o que outrora fora para os seus pais 90 minutos de escape barato ao quotidiano de humilhação do patrão e da sociedade de sucesso tem um preço não só impagável mas que lhes alimenta a revolta e a consciência da diferença de classe.
Quando contestar o negócio da máquina-futebol dá cadeia ou caixão no país do futebol sabemos que a ficção das agências de marketing FIFA/COI e os gabinetes governativos perderam algures pelo caminho o seu brilho ideológico.
Nem Pelé nem a FIFA, nem a Dilma nem o Lula, num consenso previsível, conseguem evitar que alguns moleques das favelas quando chutam uma bola made in China estarão mais dispostos a pontapear de pé cheio o embuste narrativo da marca FIFA, mentira que as grandes estrelas do futebol vendem nos videoclips multicolor das multinacionais.
Ao contrário do sonhador solitário do filme de Kiarostami, moleques e jovens brasileir@s vão continuar a descer em equipa dos morros e das favelas, driblando a falta de luz, água e pão, fintando a má sorte, suando e comendo o pó no ônibus, aperfeiçoando o jogo de cintura para fugirem à marcação cerrada da polícia – rebeldes que podem parafrasear o ex-guarda-redes do Racing de Argel, Albert Camus, “a b[a]la nunca vem por donde se espera que ela venha” – e, na angústia do espectador antes do penálti, vão matar a bola no peito, apontar para as bancadas e para os craques, e provar que o futebol morreu no estádio porque a utopia da vida mora ainda na rua.
Desde o seu surgimento e até há algumas décadas atrás, o futebol mantinha a sua narrativa própria: popular, operário, pobre e de acesso geral, democrático (com exemplos sui generis como na surpreendente Democracia Corinthiana, movimento pro-autogestionário da célebre equipa brasileira do Corinthians, em plena ditadura militar, e em que jogadores, treinador e funcionários tinham voto igualitário nas decisões).
Em “O Viajante”, o realizador Abbas Kiarostami filmou o garoto de uma aldeia nos cus de judas que fez trinta por uma linha para arranjar dinheiro para ir a Teerão ver uma partida de futebol. Uma aventura de malandragem e sobrevivência de um miúdo de doze anos para conseguir chegar à capital e comprar um bilhete para a geral. Com o bilhete na mão e os olhos a sorrir de felicidade, o moleque viu que ainda tinha tempo de sobra para entrar no estádio e merecia dormir uma sesta depois de 500km de estrada. Quando acordou, a sua utopia já tinha terminado e o estádio vazio.
No anonimato dos seus fãs, o futebol continua a ser o menos perigoso dos fanatismos (longe das consequências perversas das ideologias das massas como a religião, o nacionalismo, a política). Como no conto “O Torcedor”, do escritor brasileiro João Antônio, a violência de uma partida pode acabar com os rivais enfiados na mesma carrinha da polícia, descansando lado a lado no ombro do inimigo. Só um punhado de homens poderosos e fanáticos, munidos das astúcias da hiper-exploração, poderia revestir o futebol do espírito do tempo (o multi-lucro) e convertê-lo num espectáculo destrutivo.
FIFA: Walt Disney para adultos
No Brasil, desde o início da megaprodução da Copa até às Olimpíadas de 2016, estima-se que pelo menos 170 mil pessoas passarão pelo despejo. (O que na Alemanha representaria, proporcionalmente, 70 mil desalojados). Só no Rio de Janeiro, prevê-se o desmantelamento de 130 favelas. Aldeia Maracanã, Vila Autódromo, o Horto, Vila das Torres, Ocupação Flor do Asfalto, a Restinga no Recreio, Metro Mangueira, além das comunidades afectadas pelo projecto Porto Maravilha, a revitalização da zona portuária, a maior iniciativa público-privada do Brasil, são apenas algumas das comunidades que já enfrentaram a arbitrariedade da lei-FIFA. É apenas na TV que a multinacional de entretenimento FIFA cumpre a sua função de Walt Disney para adultos...
O Mundial de Futebol foi sempre uma cartada de legitimação política do poder, um eficaz instrumento da ideologia do consenso nacional, uma autorização ao desvio dos recursos públicos para as mãos de magnatas, uma concessão a empresas privadas para fazerem lucros excepcionais, um espectáculo material e simbólico para a coesão das elites e sua recondução no poder.
Mas, nos dias de hoje, o lucro e a exclusão económica não bastam para normalizar o avanço do capitalismo. A criminalização dos pobres, negros e favelados, é essencial à política segregacionista, para desse modo demarcar as fronteiras entre os campos de reclusão e os campos de integração na sociedade, entre as zonas de controlo e as de libertanismo condicionado.
Com efeito, no Rio de Janeiro, as comunidades economicamente excluídas são as que mais integradas estão na lógica securitária imposta pelo Estado, sob vigilância e tutela policial permanentes (as famosas UPP’s, Unidades de Polícia Pacificadoras). O modelo das UPP’s no Brasil são um paradigma securitário a exportar para as zonas onde o poder político e económico impõe processos de controlo e de gentrificação, e arquitecta o segregacionismo de classe. O panopticon sai assim da esfera da empresa ou da videovigilância nos centros nobres das cidades, para invadir de robocops o mundo habitacional, o lazer e a convivência, e a vida privada de milhares de pessoas.
A polícia pacificadora é um elemento crucial na mais recente estratégia da gestão estatal e classista no Rio de Janeiro. Convém lembrar que antes dos mega-eventos (que começaram com os Jogos Pan-Americanos de 2007 e os Jogos Mundiais Militares de 2011, ambos na cidade carioca), que agudizaram a escala e profundidade desta estratégia de controlo, foram as novas gestões do governo estadual (liderado por Sérgio Cabral Filho desde 2006) e da prefeitura da cidade (nas mãos de Eduardo Paes desde 2009) que desenharam as tácticas mais substantivas de controlo e submissão das populações:
O combate ao trabalho de rua informal, actividade crucial à subsistência dos favelados e do hiper-precariado;
A recuperação do controlo policial de zonas antes controladas pelos narcotraficantes;
Os projectos de revitalização urbana, como o da zona portuária do Rio de Janeiro, justificando os despejos e a re-segregação do direito ao espaço urbano;
A permissividade da presença maciça de drogas como o crack e, mais recentemente, do OXI, que servem de legitimação ao controlo securitário;
A proibição dos ajuntamentos populares como os bailes funk.
(O paralelo desta estratégia com as práticas de actuação da FIFA no Mundial de 2010 na África do Sul ou do COI nas Olimpíadas de Londres não pode passar despercebida, ver artigo de Federico Corriente...)
Não é também coincidência que as favelas alvo de pacificação (a pós-modernidade chegou em força aos ministérios da Polícia…) são zonas de elevado interesse económico e turístico. A estratégia do poder estadual e municipal e a táctica das UPP’s não são mais do que um novo processo de higienização sócio-económica, gentrificação que foi acelerada e ganhou uma dimensão avassaladora com os mega-eventos da Copa e das Olimpíadas.
A polícia age sob uma espécie de estado de excepção não declarado: invade domicílios, desmantela as instalações clandestinas de luz e água, o que conduz a um aumento drástico do custo de vida, forçando à evasão da população pobre que habitava a área. No sul do Rio de Janeiro, barracos são actualmente vendidos ou alugados a preços elevados, ao mesmo tempo que a rede de saneamento até aí inexistente é instalada pelo município. Soma-se a arbitrariedade policial, o racismo, a tortura a detidos e a violência praticadas em nome desta pacificação implementada pelo poder público, com o aval das instituições legislativas e judiciárias. Embora a repressão institucional se reproduza um pouco por todo o Brasil, é sobretudo nas mega-cidades que o poder tem a necessidade de impor o separatismo social e cultural. Além do Rio de Janeiro, o aparelho repressor tem imposto a sua lei arbitrária em São Paulo, por exemplo em Cracolândia (local central alvo da cobiça dos interesses imobiliários e que levou à limpeza dos toxicodependentes, dos sem tecto, das crianças de rua, dos catadores de lixo), sobre os manifestantes do “Não Vai Ter Copa” ou reprimindo os jovens da periferia que ocupam os shoppings do centro da cidade no famoso “rolezinho”.
A violência dos favelad@s é existir
A narrativa ficcional e técnica sobre a esperança e o futuro humano afirma que ser contra a Copa é ser contra o desenvolvimento do Brasil. É a mesma pirueta usada pelo discurso do poder para justificar a barragem de Belo Monte, em Altamira, no Xingu.
O trágico é perceber que as forças dominadoras dispõem do sofrimento das populações como um mecanismo de perpetuação da miséria e vendem-lhes a felicidade programada como uma droga de dependência eterna.
Os favelados (e em certa medida os povos indígenas e as populações caboclas) estão obrigados a viver num abrigo de guerra, sempre sujeitos a terem de transformar esse espaço de controlo social numa lição de vida e humanidade conquistada a ferros. Vivem em tempo real a condição do refugiado sem lugar na história oficial.
Constatação que demonstra a radicalização das forças capitalistas. Onde em algumas sociedades até há pouco mais de um século, o patrão providenciava habitação aos explorados, verifica-se que hoje a área da habitação – uma necessidade humana primária – caminhou para o extremismo de os donos do capital não só não garantirem um tecto através do pagamento de um salário que não garante a “compra” de necessidades básicas mas, em nome da expansão do seu negócio, estarem prontos a pôr em prática uma política que pressupõe a expulsão e exclusão do direito ao espaço urbano, e mesmo a eliminação física.
A liberdade de um favelado, de um negro, de um pobre, não é um mito porque eles e elas não têm tempo para serem alimentados pela imaginação (da ideologia alheia) – ali, a liberdade é sempre a violência de existir.
Nós, “brancos” e de classe média, resignados e inertes, ainda não pensámos na hipótese de que se continuarmos no sono que nos envolve teremos de aprender à pressa e com urgência essas formas de sobrevivência de que julgamos estar a salvo. E o que sucede recentemente nos países do Sul da Europa é mais do que um alerta…
Além da exploração e da exclusão económicas, da hiper-vigilância e dos despejos, é sobre os próprios favelados que recai a maldição do espírito do tempo. Enquanto se perde, por um lado, o nexo entre os responsáveis da opressão e as consequências dos seus actos, por outro, a condição de pobre e favelado legitima ela própria o castigo divino da sociedade mediática: o insucesso e a incapacidade de grandes camadas da população para a integração no mundo normalizado do trabalho-consumo explicam que só sobre elas faça sentido descarregar na forma de violência e punição todas as frustrações do beco sem saída do sistema actual. Este estigma é necessário à dialéctica do crime e castigo, quer para absolver a casta política e empresarial, quer para reconfortar as classes integradas e acomodadas, que presumem que já atingiram o mérito de pertencer a uma classe livre do arbítrio policial e governativo, como quem abre garrafas de champagne do Lidl para festejar e esquecer a sua própria miséria de work-consumer-aholic com a desgraça dos deserdados. Pobres e sem eira-nem-beira que explicam que desde o dia 20 de Maio, 40 pontos da cidade de São Paulo sejam vigiados 24 horas por dia por 4.265 polícias militares do Comando de Policiamento da Copa e que justificam os 12 rôbos anti-terrorismo, usados pelo exército norte-americano no Afeganistão, a postos contra eventuais ataques na Arena Corinthians ou na cidade paulistana...
Neste cenário, e por tudo isto, a rebeldia de milhares de brasileiro@s é uma expressão notável de resistência e do desejo de transformação.
Passará Blatter de bestial a besta?
Os protestos, as barricadas e os “vândalos” de que a TV precisa têm invadido as ruas... Os Comités Populares da Copa existem desde 2009, o que nos dá uma ideia da consciência de longo horizonte da população, e fazem-se ouvir com o slogan “Não Vai Ter Copa”, nas doze cidades-sede do Mundial. Mais recentemente, o movimento, prevendo a recuperação do slogan pela direita, alterou e politizou as palavras de ordem para “Se Não Tiver Direitos, Não Vai Ter Copa”.
A ANCOP (Articulação Nacional dos Comités Populares da Copa) reúne movimentos sociais de base, membros de comunidades afectadas pelas remoções, activistas e pessoas que criticam a forma como os processos de remodelação urbana têm vindo a ser implementados pelas autoridades no quadro da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016. O site (em PT) pode ser acedido aqui, destacando-se o dossier Megaeventos e Violações de Direitos Humanos no Brasil, que o movimento lançou em final de 2011 e que tem agora uma versão actualizada publicada há três semanas (em PT e EN), com dados e informações sobre os impactos sociais, urbanísticos e humanos causados pela hipergentrificação.
Dizia um treinador de futebol, num raro momento de lucidez discursiva, que num par de horas um treinador passa de bestial a besta. Embora caricato, traduz o lado humano da patologia futebol.
Mais complexa é a patologia dos Media e a patafísica que fabricam para renovarem a ficção do controlo social. No manto de imagens canibais, que durante um mês vão colonizar o instante do nosso olhar, como poderia ser que um dos responsáveis desta imensa patifaria colectiva, organizada pela febre da acumulação e para aniquilar a dignidade de tantos indivíduos ou mesmo a vida de inocentes, pudesse ser aquele homem que daqui a um mês sorrirá para milhões de telespectadores, no momento em que entregará a taça aos menos perigosos dos vencedores desta história?
Que no Brasil, um ano depois do libertário levantamento popular de Junho de 2013, alguns milhares de anónim@s e hiperprecári@s voltem às ruas para contestar a miséria imposta pela classe reinante e rechacem o ideal de felicidade fabricado para as massas é um sinal de extraordinário sentido crítico.
A angústia do espectador antes do penálti
Na história do miúdo Iraniano, a utopia do futebol e a interrupção desse sonho são de uma inocência que em nada se pode comparar com o que acontece na realidade do mundo do desporto de alta competição e, em particular, com a realização dos mega-eventos desportivos no mundo de hoje.
E muito menos se pode comparar com a realidade social no Brasil, onde um qualquer miúdo que habite na periferia de São Paulo ou numa favela do Rio sabe que a (im)possibilidade de ir ao estádio ou a um qualquer centro de atracção espectacular não é um luxo individual mas um pesadelo colectivo. Aprenderam que o que outrora fora para os seus pais 90 minutos de escape barato ao quotidiano de humilhação do patrão e da sociedade de sucesso tem um preço não só impagável mas que lhes alimenta a revolta e a consciência da diferença de classe.
Quando contestar o negócio da máquina-futebol dá cadeia ou caixão no país do futebol sabemos que a ficção das agências de marketing FIFA/COI e os gabinetes governativos perderam algures pelo caminho o seu brilho ideológico.
Nem Pelé nem a FIFA, nem a Dilma nem o Lula, num consenso previsível, conseguem evitar que alguns moleques das favelas quando chutam uma bola made in China estarão mais dispostos a pontapear de pé cheio o embuste narrativo da marca FIFA, mentira que as grandes estrelas do futebol vendem nos videoclips multicolor das multinacionais.
Ao contrário do sonhador solitário do filme de Kiarostami, moleques e jovens brasileir@s vão continuar a descer em equipa dos morros e das favelas, driblando a falta de luz, água e pão, fintando a má sorte, suando e comendo o pó no ônibus, aperfeiçoando o jogo de cintura para fugirem à marcação cerrada da polícia – rebeldes que podem parafrasear o ex-guarda-redes do Racing de Argel, Albert Camus, “a b[a]la nunca vem por donde se espera que ela venha” – e, na angústia do espectador antes do penálti, vão matar a bola no peito, apontar para as bancadas e para os craques, e provar que o futebol morreu no estádio porque a utopia da vida mora ainda na rua.